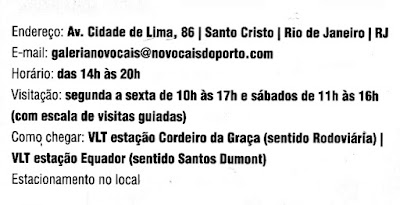A primeira vez que vi o Rio de Janeiro foi
pela janelinha do avião. Perde-se na memória dos anos quando isso
aconteceu. Por ter sido aprovado no exame do vestibular do curso de
Direito, em Salvador, recebi como presente do pai uma viagem para
conhecer o Rio de Janeiro onde permaneceria durante trinta dias,
divertindo-me e conhecendo os lugares pitorescos da cidade cantada
como maravilhosa em nosso cancioneiro.
Na minha terra natal, no interior
da Bahia, e em Salvador, onde fui estudar o curso clássico, ouvia
ser chamada de maravilhosa a cidade que seduzia os brasileiros e
gente que vinha do estrangeiro para conhecê-la de perto, com o seu
jeito mestiço e alegre. Uma canção dizia que Copacabana era a
princesinha do mar, não existia praia mais bela cheia de luz, nas
suas areias desfilavam sereias.
O Maracanã tinha jogos empolgantes,
entre as principais equipes cariocas, era uma festa de bandeiras,
erguidas por torcedores vibrantes, a cada lance empolgante da
partida jogada no tapete verde. De qualquer lugar você via o
Cristo abençoar a cidade, os generosos braços abertos ao abraço
imenso. O bondinho do Pão de Açúcar transportava gente
brasileira e do estrangeiro para lá em cima do morro percorrer os
olhos deslumbrados pela paisagem da cidade embaixo, cercada de morros
e favelas, povoada de edifícios como espigões que furavam o céu.
Do Pão de Açúcar você tinha a
cidade a seus pés, pressentindo-a com o seu ritmo por dentro, na
alegria que irrompia do futebol no Maracanã e nas escolas de
samba quando chegava o Carnaval. Havia, nesse tempo bom para ser
vivido, sempre um sorriso na passagem da vida, embora as favelas
fossem se expandindo por vielas e becos, intimidando lá do morro
com as quadrilhas disputando o poder no tráfico de drogas. Gente
perigosa descia a ladeira e no asfalto investia contra a cidade,
tendo no rosto o espanto do assalto acompanhado da morte.
A cidade ainda não ultrapassava os
limites sem fim do seu galope amarelo. Na Rua
do Catete, por exemplo, com sua gente nas esquinas, discutia-se
futebol e política, as luzes dos postes iluminavam à noite os
ônibus e carros que passavam, alguns gatos fugiam dos velhos
casarões e vinham caminhar nos passeios. O bairro do Flamengo
era povoado de bares, lojas e pensões, o vento trazido do mar
despejava o cheiro de maresia nos ares em silêncio.
Durante o dia, no centro, a cidade
acontecia com um povo afobado, andando com pressa, a subir nos
ônibus, a encher os cafés e as lojas, a entupir os passeios, a
zumbir como abelhas nos ruídos de uma colmeia gigantesca. O barulhão
dos motores e das buzinas, o fumaceiro dos ônibus, os sacos de lixo
nas calçadas, fregueses comprando jornal ou revista nas bancas do
passeio e das galerias, tudo isso enchia de prognósticos a vida
diária, que a cada dia aumentava com sua gente, entre o alegre e o
triste, pressentida do prognóstico que iria extraviar-se por
várias direções.
A cidade ainda era cantada em prosa e
verso como a que tinha encanto de sobra, chegando a causar arrepio.
Naqueles idos de 1968, depois da refeição do jantar, ia com a
esposa fazer o percurso entre a Rua Correia Dutra e o Largo do
Machado. Era bom caminhar despreocupado. Sentir o movimento da cidade
que passava segura, sem muita pressa. Voltávamos de mãos dadas, sem
ter medo de nada, pois aquele vento bom, que vinha do mar, dava-nos
a certeza de que viver naquela cidade grande valia a pena, chegando a
ser um privilégio.
Depois de transcorridos alguns
anos na cidade grande, voltei a residir em minha terra natal, no
interior baiano. Os três filhos, já criados e casados, deram-me
seis netos. Quanta generosidade da vida! Se me perguntassem se
gostaria de morar hoje no Rio de Janeiro, seria difícil dizer sim.
Nem sempre é fácil um homem do interior acostumar-se a morar numa
cidade imensa, com ritmo veloz e intenso nos tempos de hoje, de
disputa exacerbada pelo espaço, para não se falar do medo que
ultrapassou os limites de seu galope amarelo.
Medo de ir ao supermercado. Medo de
andar de ônibus. Medo de sair de casa e não voltar. Medo de ser
alcançado pelo tiroteio trocado entre a polícia e os traficantes de
droga, em plena luz do dia. Medo de ser atropelado por um ônibus,
que subiu desembestado no passeio. Medo de ser morto pela briga das
torcidas antes mesmo de o jogo ser iniciado. Medo de ser pisoteado na
passeata pela multidão, que de repente confrontou-se com a facção
rival. Medo de ser queimado no ônibus. Medo de ser morto por uma
bala perdida quando estava rezando na missa.
Meu
Rio de Janeiro, apesar de todos os traumas dos tempos atuais, gosto
muito de você.
*Baiano
de Itabuna, onde reside, Cyro de Mattos é contista, novelista,
romancista, cronista, poeta, autor de livros para jovens e crianças,
organizador de antologia e coletânea. Já publicou quarenta e três
livros pessoais no Brasil e doze no exterior: Portugal, Itália,
França, Espanha e Alemanha. É membro efetivo da Ordem do Mérito da
Bahia, Pen Clube do Brasil, Academia de Letras da Bahia, Academia
de Letras de Ilhéus e Academia de Letras de Itabuna. Doutor Honoris
Causa pela Universidade Estadual de Santa
Cruz (Sul da Bahia). Premiado no Brasil, Portugal, Itália e México.